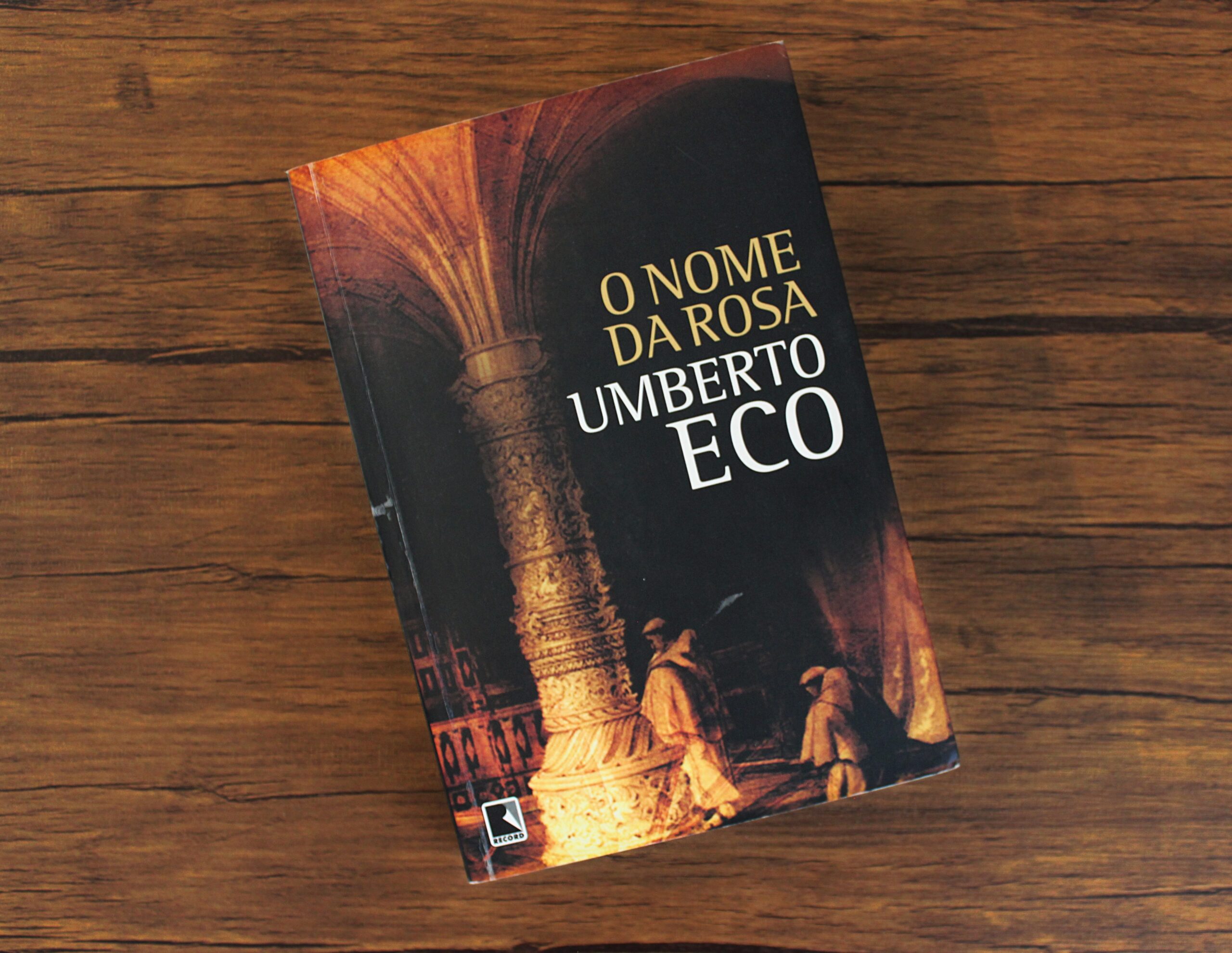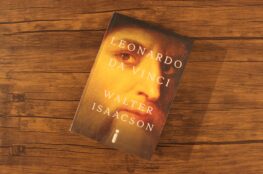Publicado em 1980, com tiragem inicial relativamente modesta (15 mil exemplares – afinal, quem iria se interessar pelo romance medieval de um acadêmico italiano?) O nome da rosa havia vendido mais de 50 milhões de cópias em 2022, quando Umberto Eco faria 90 anos*.
O êxito comercial de um livro tão erudito é prova de sua excepcionalidade e de seu apelo irresistível. Eco captura com maestria sem paralelo o sabor medieval das discussões em torno das minúcias escolásticas do cristianismo e da filosofia do século XIV, entrelaçadas com as lutas pelo poder político que a Igreja Católica exercia a ferro e fogo (literalmente). Ao mesmo tempo, impulsiona o leitor na investigação de uma série de crimes empreendida pelo monge-detetive Guilherme de Baskerville, uma espécie de Sherlock Holmes ancestral – e uma piscadela a Conan Doyle –, enquanto nos leva pelos caminhos e atalhos da infame abadia.
Logo no primeiro capítulo, nosso narrador, Adso de Melk, compartilha algumas considerações sobre as sucessões nas hierarquias católicas e testemunhamos uma conversa entre Guilherme e um outro monge, Ubertino de Casale, e este último discorre nos seguintes termos: “Chegamos à sexta era da história humana, em que aparecerão dois Anticristos, o Anticristo místico e o próprio Anticristo, isso acontece agora na sexta era, após o aparecimento de Francisco que configura em sua própria carne as cinco chagas de Jesus Crucificado.” Há muitos diálogos que dão tom do zeitgeist medieval, o tempo em que tudo era mistério e espíritos, Deus e o demônio, heresia e abominação, e em que chegar aos cinquenta anos era atingir uma idade excepcionalmente avançada. Um mundo até então sem Da Vinci, Shakespeare e Tolstói, ainda muito distante da aurora iluminista e da era dos antibióticos (ou mesmo dos benefícios do banho diário). Eco, cuja especialidade era a história medieval dos séculos XII e XIII, preferiu ambientar seu thriller no século XIV (a história se passa em 1327) pois, de acordo com ele, Guilherme de Baskerville só seria possível depois de Roger Bacon e Guilherme de Ockham, a quem o monge se refere inúmeras vezes no decorrer de suas investigações.
É lógico que o mundo sempre esteve à beira do apocalipse. Não há religião que não o tenha previsto, cada uma conferindo ao derradeiro evento suas profecias particulares e seus requintes de crueldade divina. O apocalipse cristão, conforme a visão de João, é um dos pontos que Umberto Eco usa para a construção da atmosfera de terror que cerca da abadia de Abbone. Da mesma maneira, o mundo sempre esteve em decadência. Há registros antigos, oriundos das mais diversas culturas, que capturam esse lamento recorrente sobre uma era de ouro perdida: vivemos sempre uma era de bronze que sucede um idílio irrecuperável (os delírios retrógrados de uma direita nostálgica não são um fenômeno novo nem exclusivamente brasileiro). Em Os trabalhos e os dias, Hesíodo refere-se ao período mais antigo da mitologia grega como a “era dourada”, um período de paz e prosperidade que acaba com a abertura da Caixa de Pandora – e as cinco eras gradativamente decaem até uma pálida era de ferro. O Gênesis menciona, além de um jardim de abundância espontânea do qual Adão e Eva foram expulsos, gigantes antediluvianos que andavam sobre a terra. O próprio épico de Gilgamesh já parte da premissa da degeneração de uma humanidade que irritou os deuses. Em O nome da rosa, vários diálogos entre os monges denunciam esses augúrios permanentes, da maneira como tomaram forma naquele período histórico.
Como se não bastassem os diálogos primorosos, o enredo eletrizante, a caracterização impecável e a construção finíssima, Eco planta no livro sua inequívoca homenagem a Borges, desde a introdução (onde faz uma referência a uma livraria na rua Corrientes, onde achou um livrinho chamado Do uso dos espelhos no jogo de xadrez, cheio de menções ao manuscrito de Adso de Melk – nada mais borgiano que isso) até o desfecho (não quero dar spoilers, então vou dizer apenas: o culpado e a biblioteca de Babel são a solução perfeita para o enigma proposto pelo autor). Enfim, o que mais se pode pedir de um trabalho de ficção?
*Sem contar a bilheteria do filme de Jean-Jacques Annaud, estrelado por Sean Connery e um pubescente Christian Slater. Bom filme, com mais acertos que erros, cuja cena inicial é precedida pelos dizeres: “Um palimpsesto da obra de Umberto Eco”. De fato, certas liberdades são tomadas de forma temerária, como por exemplo a tentativa de justificar o título da obra conferindo um peso inexistente àquela única noite que Adso passa com a camponesa desconhecida, como se o grande público apenas respondesse a uma história de amor. No filme, Adso chega a descer ao vilarejo para espiar sua amada, coisa que jamais acontece no livro. A estética geral das personagens contém uma carga (acredito que consciente) de excessiva feiúra que de vez em quando resvala para o caricatural mas que, de maneira geral, acaba contribuindo para a atmosfera lúgubre que é sem dúvida o grande trunfo visual dessa boa transposição cinematográfica.