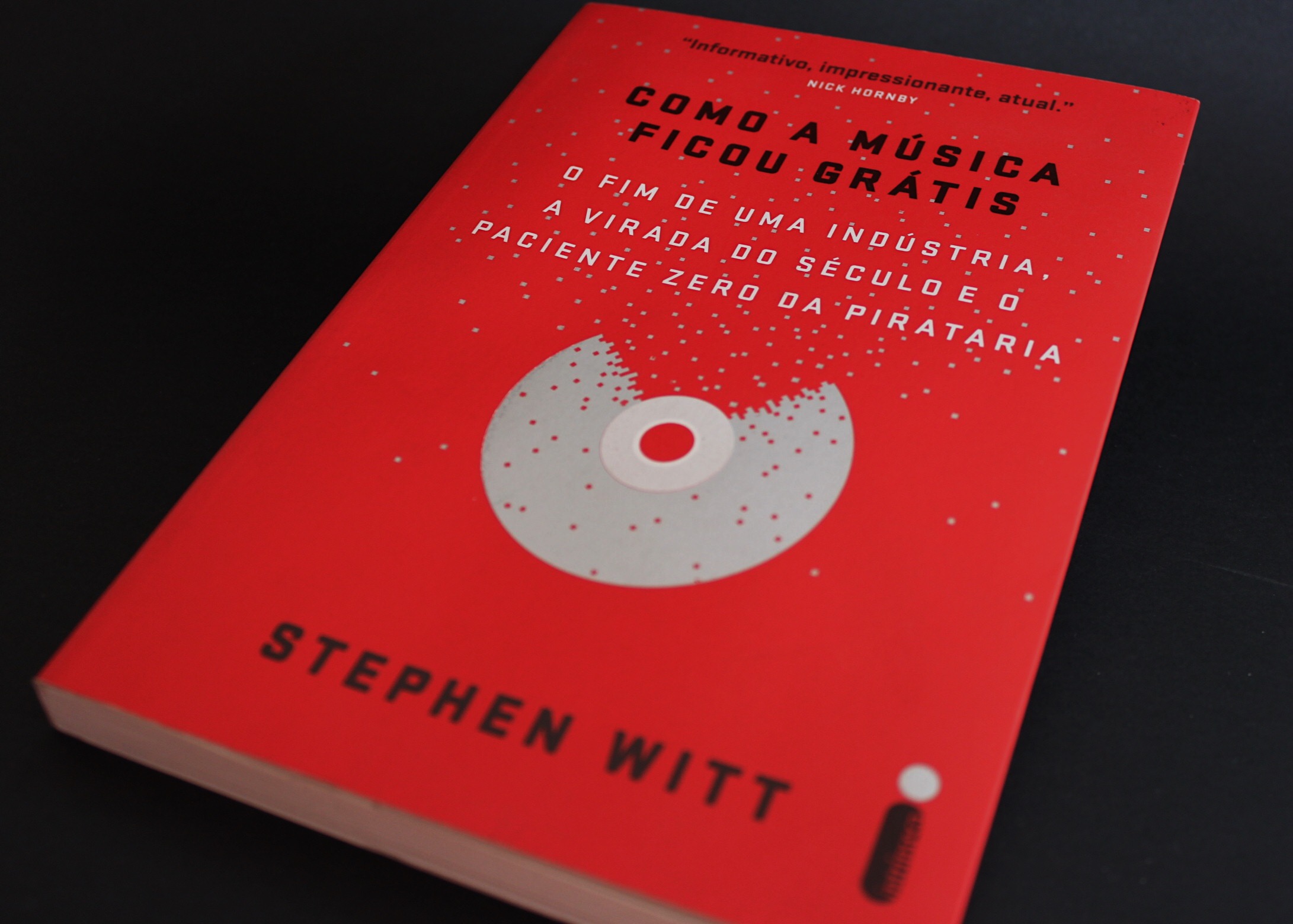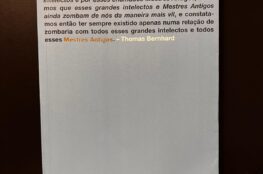“À medida que artistas e gravadoras procuravam novas fontes de receita, a importância dos vídeos virais, dos direitos de edição, dos serviços de streaming e dos circuitos de turnês e festivais aumentava cada vez mais. Em 2011, pela primeira vez desde a invenção do fonógrafo, os americanos gastaram mais dinheiro com música ao vivo do que com música gravada. Em 2012, as vendas de músicas no formato digital na América do Norte ultrapassaram as de CDs. Em 2013, as receitas geradas pela assinatura e pela venda de anúncios dos serviços de streaming pela primeira vez ultrapassaram 1 bilhão de dólares.”
Grande parte da minha infância e adolescência se passou nos anos 90. Entre meus quatro e quatorze anos de idade, algumas das coisas que me aconteceram foram: tive dois irmãos, terminei o ensino fundamental e comecei o ensino médio, aprendi a falar inglês, li coisas que mudaram a minha vida para sempre (minha mãe tinha uma coleçãozinha do Círculo do Livro e eu lembro de ter capturado O pequeno príncipe e O velho e o mar; li O tempo e o vento da biblioteca da escola e a enciclopédia de personalidades que meu pai tinha herdado do meu avô e que era guardada na minha casa numa estante de madeira de portas brancas e cor de laranja muito característica dos anos 80 – já vi estantes iguais em fotos do passado de muitos coleguinhas -, e era uma bonita enciclopédia ilustrada em vários volumes deliciosos de manusear: Marie Curie, Graham Bell, Thomas Edison: lembro de ficar fascinada por eles antes mesmo de saber a real importância deles para o pensamento, ou melhor, Pensamento, e lembro também de usar essa enciclopédia, juntamente com uma Larousse que meu pai também tinha, para fazer trabalhos de escola), tive meu primeiro computador (uma máquina enorme e bege e quadradona, sem drive para CD, que tomava minha escrivaninha inteira para rodar o Windows 3.1 e armazenar menos de 1 gigabyte), meu segundo computador (agora com Windows 95), meu terceiro computador (com o 98, e eu demorei pra me acostumar a ele: por muitos anos, preferi o 95, não me lembro mais por quê), e neste computador tenho muitas memórias de exploração: meu email no BOL, bate-papo no UOL com hora marcada, meu ICQ, meus downloads no Kazaa (que delícia baixar uma música sem erros em quarenta minutos!) e no LimeWire; depois da virada do século, testemunhei a migração do ICQ para o Messenger (devo dizer que, também por uma questão romântica, fui uma migrante relutante), o nascimento e a morte do Orkut no Brasil, os celulares virando item básico do cotidiano, o Google dominando o mundo e abrindo a trilha para outras super entidades internéticas.
Como uma cidadã de mais de trinta anos de idade, devo reconhecer que já usei o Altavista como principal instrumento de busca, que esperava a meia-noite do sábado para usar minha conexão dial-up (que funcionava, muitas vezes, na base da fé), que me lembro da vida sem Youtube (eu era membro de hubs de vídeos de ginástica artística que demoravam dias para serem baixados) e que já tenho uma nostalgia dos tempos d’outrora: a internet era um lugar muito mais sussa, muito mais aprazível pra quem queria caçar umas músicas ou uns vídeos, trocar uma ideia com quem estivesse online e tomar um copo de Coca com gelo na frente do PC. (Hoje as coisas mudaram e a galera usa a internet pra fazer política e ganhar dinheiro e disseminar indiretas e investigar irrelevâncias, mas é claro que eu ainda amo a internet.)
Apesar de, por força da idade (ontem mesmo descobri que sou mais velha que 54% das pessoas no planeta), ter acompanhado tantas mudanças no que diz respeito à comunicação, sei pouca coisa sobre o que realmente aconteceu nos sujos bastidores desse circo mundial que é a WWW. Assim, aqui e ali a gente vai captando alguma coisa. Um filme sobre o Steve Jobs, sobre o Mark Zuckerberg, um documentário sobre o Google, um TED talk, etc. Mas a minha ignorância é abrangente. Eu não sabia, por exemplo, o que era um mp3. Nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Se alguém me perguntasse: ‘o que é mp3?’, eu responderia: ‘ora, é um formato de arquivo de música’. E só. Depois de ler este Como a música ficou grátis, passei a ter uma ideia de como foi o processo de criação dessa mágica que é o mp3 e, também, como foi a transição das formas de consumo de música no mundo. Porque outra coisa que me aconteceu muito nos anos 90 foi guardar mesada pra comprar CD (naquela época, juntamente com as vídeo locadoras, as lojas de CD prosperavam).
Lançado no Brasil pela Intrínseca (que, aliás, tem me surpreendido muito pela qualidade e pela quantidade de lançamentos – o slogan da editora não era ‘publicamos poucos e bons livros’? Esse frenesi começou depois do estardalhaço de A menina que roubava livros, mais de dez anos atrás, e agora os caras estão emendando um sucesso no outro, incluindo o onipresente A culpa é das estrelas, dando trabalho pras outrora inalcançáveis Companhia, Globo, Record), este Como a música ficou grátis, de um matemático americano chamado Stephen Witt, entrou pra minha lista de boas leituras deste ano. (Acho legal quando matemáticos escrevem sobre temas variados, porque eles conseguem aplicar todo aquele rigor que passaram anos exercitando em impenetráveis desafios de abstração aos rolês cotidianos mais concretinhos.)
Witt, partindo da era de ouro do CD e chegando até o Spotify, conjuga três fatores para explicar a mudança no modo de consumir música que varreu o planeta nas últimas duas décadas: a criação, no ambiente acadêmico alemão, de um formato de armazenamento de música chamado mp3 (e essa história é muito legal: você sabia que o mp3 é doze vezes menor que o mesmo arquivo em CD porque ele passa por um processo de compressão em que são limados os sons que – teoricamente: o mp3 é um bebê da psicoacústica – o ouvido humano é incapaz de captar? Eu não sabia), a paralela progressão de capacidade de processamento, largura de banda e armazenamento promovida pelo boom do PC nos anos 90/2000 e a parceria entre um grupo de piratas com um funcionário da linha de produção de uma fábrica da Universal na Carolina do Norte que vazava grandes lançamentos. Witt também mostra o outro lado da moeda: Doug Morris, talvez o mais poderoso executivo da indústria fonográfica de todos os tempos (foi presidente da Warner, da Sony e da Universal; sua última invenção, antes de se aposentar, foi um canalzinho no Youtube chamado Vevo), é personagem importantíssimo – e interessantíssimo – do percurso narrado.
Se eu tivesse que pensar em um defeito, só um me viria à mente: as 248 páginas (da edição brasileira) me pareceram pouco espaço para tantas ideias. Se o livro tivesse sido escrito pelo Bill Bryson, por exemplo, teria 550 páginas e muito mais detalhes picantes dos bastidores: e quem não gosta de fofocas instrutivas? (Bom, o Stephen Witt conta uma fofoca sobre o Jay-Z, por exemplo, que eu não sabia: certa vez, ele esfaqueou um cara na pista de dança por causa de uma rixa. Tá vendo, não é legal saber essas coisas? Então, acho que o livro podia trazer mais dessas.) De qualquer maneira, entendi a proposta de concisão de Stephen Witt. Um formato mais breve pode ser mais impactante, do ponto de vista comercial. E outra: o cara se propôs a fazer algo e fez de maneira brilhante. Logo farei uma segunda leitura e recomendo fortemente. Em nome dos bons e velhos anos 90.
Obs.: O título original é, como quase sempre, melhor que a sua tradução para o português: “How music got free” significa muito mais que “Como a música ficou grátis”. Porém, não se pode culpar o tradutor, já que neste caso uma transposição exata seria impossível e a aproximação, no fim das contas, parece boa o suficiente.