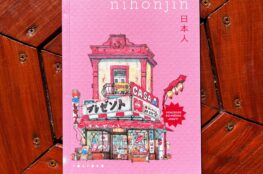Sempre que eu me deparo com algum absurdo lógico embasado num dogma religioso e ensaio uma espécie de dissecação, não demora muito até que me invadam algumas certezas: antes de mais nada, a fé religiosa é tão universal porque é tão constantemente professada e reiterada. Você, provavelmente, foi ensinado desde pequeno a rezar, por exemplo, ou a se declarar católico ou evangélico ou espírita. Antes mesmo de sequer imaginar o que faria profissionalmente depois de adulto, você foi estimulado (ou até mesmo carinhosamente coagido) a abraçar uma fé que definiria seus caminhos para além da vida, para a eternidade de gozo ou de fogo. Então, o que seria totalmente compreensível, você nunca mais conseguiu se desligar (ou com muita dificuldade passou por um desligamento traumático) do que julga ser parte essencial de tudo o que você e sua família são e defendem.
Outra certeza é a de que a língua (as línguas), com o perdão da expressão, é uma tricky bitch. Já percebeu como muito frequentemente as palavras apenas resvalam nos significados que queremos dar a elas? Pense no idioma ideal postulado por Borges, em que cada palavra seria tão ajustada a seu objeto que seria capaz de conter sua descrição e seus detalhes, além de seu percurso no espaço e no tempo. Ou pense ainda em outro elemento fantástico a que se referiu o velho Borges, no golem da tradição mística judaica, trazido à vida pelo domínio de uma só palavra: o nome de deus. Pense em qualquer estudo comparado de línguas, e os tais diferentes recortes que fazem do mundo, e não será difícil perceber o que quero dizer com “resvalamento”. As línguas que temos como instrumento são tão distantes do idioma ideal do Borges, tão inexatas, que nunca houve na humanidade um tempo que não fosse infestado por desentendimentos e guerras. A língua muitas vezes fica no caminho dos significados (e, como estamos às vésperas das eleições – quer dizer, sempre estamos às vésperas de alguma eleição – e em tempos curiosos de onipresentes fake news e desconversamentos, use esta constatação pra notar o tanto de discursos vazios, carcaças de palavras, que são adotados a fim de simplesmente descomunicar). Se eu disser, por exemplo, que não acredito em Deus, terei dito aos ouvidos alheios algo como: “não acredito em coisas boas, em amor ao próximo, em ajuda divina; defendo, portanto, as atrocidades do diabo e me recuso a receber o consolo de um ser todo-poderoso nos momentos em que tiver dificuldades”. É claro que essa interpretação é uma monstruosidade lógica, mas comecei este comentário falando exatamente sobre os absurdos lógicos embasados em dogmas religiosos. Dificilmente alguém interpretará uma declaração de ateísmo como algo assim: “não acredito que um ser onipotente me criou para que eu me prostrasse e o adorasse, sob pena de punição eterna, e também não acredito que eu seja portadora de uma verdade privilegiada que me conduzirá ao exclusivo camarote open bar do pós-vida”. Para uma pessoa religiosa, uma declaração de ateísmo é algo profundamente ofensivo em termos de língua rasa e entendimento raso, porque para ela muitas vezes isso soa como: “você está perdendo seu tempo com toda essa liturgia inútil, porque tudo isso não passa de uma grande ficção, um delírio coletivo, um conto de fadas que você escolheu para lhe pautar a vida”. Pelo bem da convivência, portanto, é mais fácil seguir dizendo que se acredita em Deus.
A outra certeza, por fim, diz respeito às coincidências. São tão constantes e, às vezes, tão fantásticas, que realmente só se pode explicá-las apelando ao sobrenatural. Já testemunhei tantas coincidências, a tantas alturas da minha vida, que reconheço ter sentido algumas vezes aquele assombro profundo que prenuncia o enraizamento de uma superstição. Desde as coisas mais banais (certa vez, quando ainda morava na rua da Glória, fui sem grandes objetivos bater perna pelo centro e entrei na Saraiva da Sé uns dez minutos antes de fechar; escolhi dois livros totalmente ao acaso, dois livros que eu nunca havia lido antes e aparentemente tão desconexos quanto possível: Um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams, e Sem plumas, do Woody Allen; li os dois livros no mesmo dia, e me surpreendeu a remissiva coincidência de que no do Allen há um texto que satiriza a peça do Williams) até as mais transcendentais (os fatos, por exemplo, de a astrologia ocidental afirmar que eu sou do signo de Touro e de eu ter, no braço direito, três sinais perfeitamente alinhados que remetem ao Cinturão de Órion – Órion é a constelação do caçador do Touro).
Uma coincidência que sempre me deixa num estado de superstição é a de Good Will Hunting (no Brasil, o título foi traduzido para Gênio indomável). A trilha sonora desse bom filme conta com duas músicas de Elliott Smith e foi com Miss Misery que ele teve uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original. Foi por esse filme, também, que Robin Williams ganhou na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, nos idos de 1998. O assombro da coincidência: tanto Robin Williams quanto Elliott Smith se suicidaram. Robin Williams, conhecido por encarnar personagens inspiradores e cômicos, chocou o mundo ao se matar por enforcamento. Já Elliott Smith se suicidou de uma maneira que Courtney Love definiu como “the best suicide I ever heard of”: duas facadas no próprio peito, depois de uma briga com a namorada. Very rock star. Very sad, though. O que fazer com uma coincidência dessas? Se deixar arrepiar e depois fazer a vida seguir? Acho que sim. Mas tem uma coisa: talvez cada pequena coincidência seja uma denúncia, um vislumbre da complexa e inapreensível realidade que nem a nossa fé e nem a nossa língua são capazes de explicar.
Enfim, as coincidências brotam a olhos vistos: só custam atenção. Difícil não ser religioso, ou pelo menos supersticioso, num planeta que insiste em nos presentear, a todo instante, com o improvável ou o inexplicável. Por isso, repito, a religiosidade é um sentimento compartilhado por tanta gente. A minha superstição com base nas coincidências tem a mesma raiz. Também porque ela parte de um esforço consciente de ordenação, eu deliberadamente imprimo a ela uma bela dose de otimismo: toda vez que me acontece uma coincidência, digo a mim mesma que essas duas linhas de eventos se encontraram naquele momento porque eu estava exatamente no lugar certo, na hora certa. Antes e não poderia acontecer; depois e não teria acontecido. Às vezes acaba até sendo uma espécie de mantra que eu me permito ter.
No começo desta semana, a Companhia das Letras lançou no Brasil uma nova coletânea de poemas de Wislawa Szymborska, Para o meu coração num domingo. Devorei os 45 poemas em dois dias, processo que me levou às lagrimas à altura de Despedida a uma paisagem, poema que escreveu para Kornel Filipowicz, seu companheiro por mais de 20 anos. Entre outros grandes momentos, estava o belo Um contributo à estatística, de seu livro Instante, de 2002. Segue um trecho:
“De cada cem indivíduos
os que sabem tudo melhor
– cinquenta e dois;
dispostos a admirar sem inveja
– dezoito;
vivendo em constante medo
de alguém ou de algo
– setenta e sete
(…)”
O livro que li em seguida foi Vamos comprar um poeta, do português Afonso Cruz, originalmente publicado em 2016 e trazido para o Brasil pela Dublinense em 2020, que a Natasha encomendou pela internet na nossa última leva de compras. O universo me presenteou com uma pequena porém preciosa coincidência: em Vamos comprar um poeta, há uma referência a essa última estrofe que transcrevi acima. É um uso preciso e justo desse poema da grande Szymborska, já que a historinha imaginada por Cruz se passa num mundo em que tudo é contabilizado, tudo é estatística. Certo diálogo entre a jovem protagonista e seu irmão, por exemplo, mostra os dois tentando quantificar a paixão do rapaz (um indivíduo em constante “bancarrota emocional”) por uma moça: ele está setenta, talvez setenta e dois por cento, apaixonado. A moça, por sua vez, “não passa dos trinta, trinta e seis por cento” (mas com chances de crescimento). A maneira como os números aparecem na narrativa, traçada com referências a números inequívocos numa surpreendente pauta utilitarista, deixa transparecer o caráter ultracapitalista daquela sociedade curiosa e distópica e é o charme maior do livro. A dinâmica social em que a palavra “inutilitarista” é a maior das ofensas coloca em movimento a tensão central entre o que é útil – prosperidade e crescimento – e o que é meramente acessório – na figura do nosso pobre poeta adotado –, e os resultados dessa conjugação desvelam certas verdades sobre a natureza humana que são facilmente reconhecidas pelo leitor.
O esquema de patrocínio geral descrito por Cruz (cada produto é patrocinado por uma grande empresa capitalista: as pantufas da mãe da protagonista são patrocinadas por uma empresa de lâmpadas e a toalha da mesa por um frigorífico, por exemplo) me lembrou um pouco o mundo distópico de David Foster Wallace em Graça infinita, em que os anos têm patrocínio – parte da história se passa no “ano da Fralda Geriátrica Depend” (e aqui vale acrescentar uma observação, já que falávamos sobre coincidências: assim como Robin Williams e Elliott Smith, Foster Wallace também se suicidou no auge de sua potência artística). O humor presente em cada página de Vamos comprar um poeta não é nem óbvio nem gratuito: num mundo em que até as pessoas têm números por nomes, o nome BB9,2 é um “nome pomposo” porque tem uma vírgula e o nome N7468,1734 é ainda mais pomposo porque “depois da vírgula seguem-se quatro algarismos”.
Afonso Cruz não se apoia em maneirismos ou abusos do estilo para contar sua história. Na contramão do que se tem feito em literatura de ficção em língua portuguesa nos últimos dez ou quinze anos, ele parte de um sólido universo ficcional, composto com as firmes pinceladas de quem tem uma história a contar e um destino a alcançar. O apêndice, uma pequena coleção de citações e reflexões sobre cultura e arte, é de um brilho raro, um verdadeiro lampejar de inteligência cristalina em tempos obscuros. Ao fim desse apêndice, que tem o sabor de uma argumentação filosófica, um verdadeiro elogio da cultura, Cruz reflete: “Ou seja, mesmo se nos abstrairmos de coisas tão irrisórias como a felicidade e o crescimento pessoal, e nos concentrarmos apenas nos números, a falta de investimento na cultura deve-se a uma ignorância extrema”.
Em tempos como o nosso – apesar de que eu ouso dizer do fundo da minha azia pós-moderna que os tempos sempre foram e sempre serão assim – parece que essas verdades têm que ser gritadas de maneira cada vez mais estridente. O obscurantismo que contamina todas as instâncias de poder das sociedades pretensamente democráticas em seus estados pretensamente laicos tem que ser combatido porque ele leva, inevitável e frequentemente, a absurdos lógicos embasados em dogmas religiosos. Esses absurdos lógicos, por sua vez, levam toda a sociedade a retrocesso e infelicidade. E, paradoxalmente, isso pode ser visto também da perspectiva utilitarista: no Brasil, o negacionismo dos caciques evangélicos que emplacaram sua anta maior na chefia do Executivo tem se valido de seu poder para passar leis cada vez mais permissivas de proteção ambiental. Ou seja, vamos destruir o planeta e vamos todos morrer (o que, em última análise, é a antítese do utilitarismo ultracapitalista, que cavalga seu ideal de progresso infinito).
O livro de Afonso Cruz é ao mesmo tempo fresco e de sabor atemporal. É uma boa ferramenta para pensarmos a arte e, como artistas, nos inspirarmos para fazer arte. Escrito em português por um cara meio doidão (no momento, ele tem publicado uma espécie de enciclopédia de difícil classificação e está no sétimo volume), foi uma bela surpresa e uma das melhores coincidências do meu ano até agora.