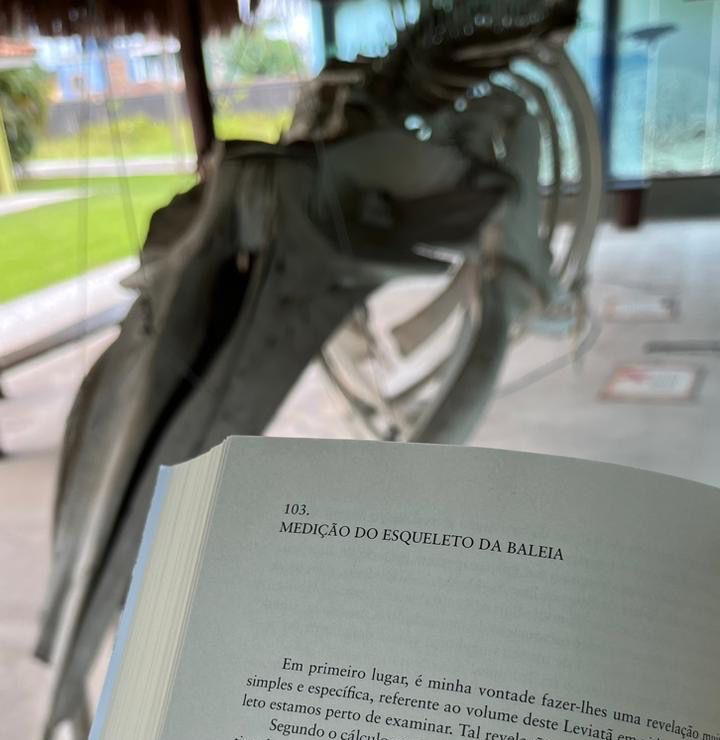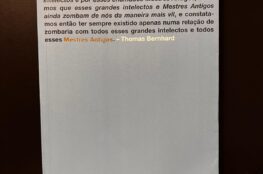Por ocasião da publicação de Moby Dick, em 1851, Evert Duyckinck escreve um artigo em que afirma que, em termos de História Natural, o que Herman Melville nos oferece sobre as baleias se assemelha, “em geografia, ao que Colombo nos revelou com a América.” Afirma o editor estadunidense: “Nada desse porte havia sido escrito antes a respeito da baleia; pois nenhum homem que tenha de uma só vez presenciado tais lutas e pesado tão cuidadosamente tudo o que havia sido dito sobre o assunto, com iguais poderes de reflexão e percepção, tentara escrever algo a respeito.” Como se sabe, o jovem Melville trabalhou em três navios baleeiros diferentes e fez disso matéria-prima de grande parte de sua literatura; Moby Dick é o sexto de seus livros publicados.
Nesse mesmo artigo, que inclusive acompanha a tradução de Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza na belíssima edição da Editora 34, Duyckinck identifica três livros entrelaçados em Moby Dick: o primeiro consiste em um tratado sobre o cachalote. O segundo, a história de Ishmael, Ahab e seus imediatos e arpoadores, bem como do Pequod. O terceiro, por sua vez, é uma espécie de ensaio de viés moralizante, poético, dramático e de tom bíblico. O modo como esses três livros se entrelaçam é produto de arte finíssima, repleta de profundas epifanias sobre a condição humana.
A grande e furiosa baleia albina é um símbolo, diz D. H. Lawrence. Símbolo de quê? “Duvido que mesmo Melville soubesse com precisão.” Depois de dar a entender que Melville era um chato da Nova Inglaterra, Lawrence reverencia sua obra. Moby Dick, afirma o autor, “impõe um silêncio na alma, um temor reverente.” E prossegue: “Como uma história da alma, deixa qualquer um nervoso. Como um conto de marinheiro, é maravilhoso: há sempre algo um pouco exagerado nos contos de marinheiro.” Talvez, de maneira resumida: “É um livro extraordinariamente belo, com um significado terrível.” Melville, porém, se antecipa e essa procura por significados e afirma na página 218 que Moby Dick não deve ser desprezado como uma “fábula monstruosa, ou ainda pior e mais detestável, como hedionda e insuportável alegoria”, o que torna a obra ainda mais fascinante e inesgotável.
Através dos mapas migratórios do cachalote, dos caminhos das correntes marítimas e do movimento das estações e dos ventos, Melville faz com que, além da baleia branca e do obstinado capitão Ahab, um dos protagonistas de sua obra-prima seja também, simplesmente, o planeta Terra. É um feito grandioso. Se a humanidade não fosse um organismo delirante, Moby Dick seria um dos nossos livros sagrados, já que, além de tudo, é de um pioneirismo ambientalista absolutamente anacrônico, um elogio do mundo natural anunciado das profundezas da cultura baleeira norte-americana do século XIX. E não há maniqueísmo na sondagem dos conflitos internos do pescador de baleias: na página 319, por exemplo, fala-se sobre a magnitude da baleia; na página 219, ela é descrita como “maléfica”; na página 381, nosso narrador se refere a ela como um ser “ponderoso e profundo”. Através das lentes de Ishmael, é claro, mas também nas linhas da voracidade amoral da natureza, conforme percebida por Darwin e descrita em A origem das espécies (publicado, aliás, oito anos depois de Moby Dick). No capítulo 69, “O funeral”, temos uma das passagens mais belas sobre a morte da baleia, logo após uma descrição fria e detalhada sobre a extração de sua manta de gordura subcutânea.
O resultado desse movimento é inevitavelmente a percepção da nossa própria insignificância perante a Terra e os mistérios do espírito. A maneira como Melville compõe seu emaranhado de eventos e reflexões é uma força da natureza, tanto pela profundidade quanto pela abrangência de seu alcance. Não admira que o cenário escolhido tenha sido o vasto oceano, e o herói, um imenso cachalote.