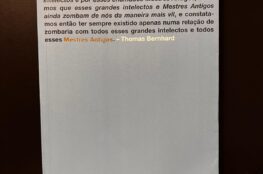“Eu tenho um tipo de sangue que só têm os que escreveram Os detetives selvagens.” Roberto Bolaño
Uma estrutura caleidoscópica, uma série torrencial de personagens esculpidos à la Bolaño (apenas para exemplificar a filigrana da composição: Norman Bolzman, um personagem secundário praticamente irrelevante para a trama total, compartilha sua impressão sobre um olhar que Ulises Lima, esse sim o protagonista, certa vez lança em sua direção: “lembrei, no meio de cem relâmpagos ou mais, do olhar de um cachorro que tive quando criança, quando morava em Polanco, e que meus pais sacrificaram porque de repente deu de morder as pessoas”), um enigma literário-detetivesco e algumas pegadas de autoria deixadas aqui e ali: a presença de Arturo Belano (uma espécie de alter ego de Bolaño: é em Belano que ele imprime sua experiência como vigia noturno em um camping na Espanha, por exemplo), o deserto de Sonora como ponto de convergência e a menção a certo J. M. G. Arcimboldi. Tudo isso, além da impecável prosa do homem que escreveria 2666, compõe Os detetives selvagens, romance lançado em 1998 e que levou Roberto Bolaño à estratosfera da literatura latino-americana do século XX.
Ainda que de aparência fragmentária – pois Os detetives selvagens é uma espécie de compilação que se vale de entradas de diários e depoimentos para compor um retrato maior de seus dois protagonistas, em primeiro plano, e relatar a busca pela jovem escritora Cesárea Tinajero, em segundo plano -, o romance tem, de acordo com Bolaño, “uma estrutura dificílima e uma unidade tremenda”. Conforme relatou o autor, o livro só começou a ser escrito depois de se tornar uma ideia muito clara e bem construída em sua cabeça (o que faz sentido: Bolaño, além de um grande admirador de Borges, que considerava a estrutura da narrativa policial a mais perfeita, disse em entrevistas que, caso não tivesse sido escritor, gostaria de ter sido detetive).
Nas palavras de Andrés Braithwaite, a prosa de Bolaño busca “fulgores infraordinários” e depende de “leves rupturas na percepção do real”. É um exercício de hipnose, um truque de prestidigitador, um vórtice mental engendrado por um escritor que parece saber tudo sobre a escrita. Quase um sentimento de vaticínio: 2666 é tão imenso e de tão mística simetria, que não me estranharia se o planeta explodisse no ano de 2666 apenas para que se cumprisse a profecia apocalíptica de um poeta. (Quando Bolaño foi internado, já nos momentos finais de sua longa doença hepática, conta Braithwaite, “o ar ardia como uma mensagem do horror. Fazia séculos que Marte, o planeta guerreiro, não se aproximava tanto da Terra. Pouco antes de sua morte, se incendiou o camping Estrella de Mar, onde foi vigia noturno. Ninguém se lembra de outro verão igual na Catalunha”.)
Para embrenhar-se na exuberância da obra de Bolaño, é bom ter em mente sua visão da literatura: “A literatura se parece muito com as lutas dos samurais, mas um samurai não luta contra um samurai: luta contra um monstro. Geralmente sabe, ademais, que vai ser derrotado. Ter coragem, sabendo previamente que vai ser derrotado, e sair a lutar: isso é a literatura.”